
Sob o regime da urgência em O Processo
Maria Augusta Ramos e as construções da memória de um Brasil em colapso
Por Gabriela Alcantara | 25.04.2018 (quarta-feira)
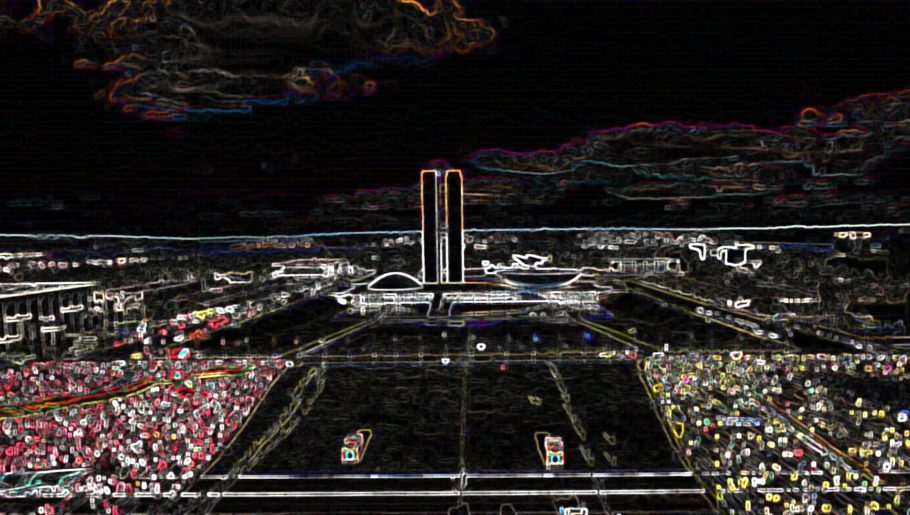
“Se falar de barril de pólvora, estopins e artilharia pode soar normal nos dias de hoje é porque vivemos um momento de conflagração, de crise de modelo”. A frase de Guilherme Boulos resume bem não só o momento atual do Brasil, mas também aponta o fio-condutor que perpassam dois dos últimos filmes[1] da cineasta Maria Augusta Ramos, Futuro Junho (2015) e O Processo (2018)[2]. Se “toda crise tem um começo”, como aponta o trailer de Futuro Junho, Maria Augusta parece dedicada a não deixar que a memória visual e as construções estéticas em torno do impeachment de Dilma Rousseff e das narrativas antissociais das novas políticas de governo – em seu começo e agora em seu auge – fique a cargo apenas de uma mídia oficial reconhecidamente tendenciosa.
Diante da tensão quase apocalíptica de um país em colapso, Maria Augusta debruça seu olhar ao aqui e agora. E o faz seja diagnosticando e antecipando os tempos sombrios que se seguiram após Futuro Junho, ou trabalhando sob o regime de urgência em O Processo, onde acompanha de forma contundente o processo que levou ao impeachment da presidenta. A partir das personagens, a cineasta traça retratos humanos que escapam às cruezas e friezas das matérias jornalísticas da grande mídia. Como se filmar fosse um ato não só de resistência mas principalmente de tentativa de compreensão, ela aprofunda-se, mergulha, retorna e observa enquanto conversas aparentemente banais dão o tom da crise para além das questões preto no branco. Diante de seus personagens-reflexos da crise, diversos sintomas se levantam.
Já no início, Futuro Junho delimita bem os dois opostos que se combaterão ao longo da narrativa. Enquanto São Paulo borbulha com uma manifestação sindicalista, em que o narrador fala sobre os direitos da população versus as grandes riquezas em cima de um trio elétrico onde lê-se “Apocalipse” escrito nas laterais, um corte nos leva para o interior do carro de André Perfeito, economista que enfrenta o trânsito com os vidros fechados e ar-condicionado ligado, em um retrato cotidiano de parte da população que ignora aquilo que não lhe afeta diretamente. Entretanto, ao mesmo tempo em que Perfeito traça uma clara barreira com o exterior – é possível vê-lo em outras cenas com os vidros abertos – o som do trio-elétrico ecoa com força no interior do carro, dando a impressão de que há uma soma de várias vozes insatisfeitas.
Um dos economistas mais reconhecidos do país atualmente, Perfeito entra no filme como o perfil ideal do vilão, visto que os outros três personagens representam a camada da sociedade que luta por pautas mais alinhadas à esquerda. Interessante observar aqui que em momento nenhum ele posiciona-se politicamente e, no ambiente extra-filme – que também me interessa, posto que traço um paralelo entre o real e o fílmico – chegou a reconhecer em entrevistas que Lula seria a melhor opção para o país neste momento de crise[3]. Como então construí-lo enquanto vilão? É aí que está um dos maiores trunfos deste filme de Maria Augusta. Suas personagens são multifacetadas, humanas, não trata-se aqui de personagens simplesmente maléficos. Perfeito é vilão porque representa a camada da sociedade que toma decisões baseada em apenas uma coisa: o lucro. E ele o faz de forma extremamente consciente, indicando o ponto de ruptura que o país vivenciava no período pré-Copa, em que o filme se passa.
Em dado momento, por exemplo, ele dá aula a um grupo de jovens e aponta calmamente a receita para o sucesso que permeia o imaginário político conservador: para sairmos da crise, seria preciso que a chamada nova classe C voltasse a ser D e E. Mais à frente, em uma reunião de trabalho, um colega de Perfeito fala sobre as aprovações do governo de Dilma e demonstra o descontentamento do mercado – que previu uma queda em sua popularidade – com o leve aumento de aprovação após alguns jogos da Copa de 2014. A chave está aqui – bem como em outros momentos, fugidios aos olhos e ouvidos menos atentos –, nos sonhos do mercado.
Por sua vez, os silêncios e as paisagens urbanas da São Paulo de Futuro Junho também evidenciam as relações de poder. Nenhum plano de cobertura está no filme por acaso, e é interessante observar como nossa arquitetura contemporânea não disfarça nem um pouco os moldes em que serve a um processo de exclusão social, traçando separações muito claras impostas pela burguesia e pela classe média que se crê burguesa.
Mas o que pode o cinema diante de um acontecimento cuja iminência é mudar os rumos do país? O que pode uma realizadora como Maria Augusta Ramos, que tem o cinema como instrumento de trabalho e é interessado por política, pelas lógicas do poder, pelos modos dos processos subjetivos serem modulados e moduladores no capitalismo contemporâneo? O que pode esse documentarista diante de um grande evento? – de um evento que se apresenta como um divisor de águas da política mundial e paradigma do que pode contaminar praças e países, jovens e vidas; um verdadeiro acontecimento. (MIGLIORIN)
Como se buscasse essa resposta, Maria Augusta volta seu olhar para o acontecimento enquanto agora. Diante do nó “de onde as continuidades se mantém incertas” (MIGLIORIN, 2015, p. 236), ela se põe a filmar, como se o dispositivo fílmico pudesse lhe trazer uma resolução, apontar uma saída possível. Ao voltar seu olhar para as manifestações e os trabalhadores, entretanto, o futuro não só parecia incerto como confuso e pessimista.
Ao mesmo tempo, Futuro Junho traz pequenas situações que estão também presentes no Brasil de 2018, como na cena em que o desembargador dá um esclarecimento de seu parecer tão claro quanto o da ministra Rosa Weber durante o julgamento de habeas corpus de Lula. Ao explicar porque considera ilegal a greve dos metroviários daquele ano, ele justifica que “a intenção do tribunal não é que funcionasse 100%, mas que funcionasse de forma normal, como se não houvesse greve naqueles horários de pico (…). Posso até discutir que a determinação de 100% ou de funcionamento normal no horário de pico seria o mesmo que negar o direito de greve, (mas) o que está em jogo é que houve uma determinação judicial”. O que parece complexo e confuso na verdade é uma demonstração explícita do funcionamento do judiciário brasileiro, em que as decisões aparentemente sem sentido na verdade servem a interesses claros: do empresariado e dos detentores de poder.

still do filme “Futuro Junho” (2015)
A fragilidade da militância de esquerda já neste momento recente de nossa história também torna-se evidente diante da lente cirúrgica de Maria Augusta. Apesar de belíssimos planos de manifestações em que ecoam palavras de ordem, alguns detalhes gritam por atenção na tela e na narrativa. É o que percebe-se por exemplo diante da violência da Polícia Militar paulista, que insiste em atacar manifestantes apesar das negociações de dirigentes como o sindicalista e metroviário Alex Fernandes. É ele também que protagoniza alguns dos momentos em que essa fragilidade torna-se extremamente palpável, como nas cenas em que fala sobre sua demissão por conta da greve.
O cotidiano do motoboy e rapper Alex Cientista também evidencia as contradições que fazem parte do momento histórico retratado no filme. Diante da força do capital, um diálogo entre Alex, sua família e uma representante de funerária nos lembra como não há direitos sem dinheiro, nem mesmo o direito de ser sepultado com alguma dignidade. Mais à frente, em um carteado com os colegas da empresa onde trabalha, dois amigos de Alex anunciam a desigualdade diante daquilo que em teoria serviria como anestésico para a população brasileira: o futebol nacional. Ao comentarem sobre o preço dos ingressos da Copa – que à época custavam quase todo o salário daqueles homens – um deles fala: “Brasil, né? País de todos”. Ao que o outro responde, em tom jocoso: “De todos os rico, né? Só se for”. Já perto do final do filme, vemos uma belíssima sequência de planos em que Alex e sua comunidade se enfeitam para a Copa, as cores verde e amarela da bandeira em contraste contra as casas de tijolo aparente e seus tons barrosos.
Nada mais flagrante e ao mesmo tempo simples que o retrato final traçado por Maria Augusta em torno da diferença de vivência de seus personagens diante do jogo da Copa em São Paulo. Enquanto Alex Cientista assiste ao jogo em sua comunidade em um telão improvisado, Perfeito e uma gama de pessoas majoritariamente brancas e vestidas de verde e amarelo enchem o metrô com o hino nacional, sorridentes a caminho do estádio. Por sua vez, o operário automobilístico Anderson dos Anjos e outros colegas – em sua maioria negros – trabalham montando carros, posto que não conseguiram liberação da empresa para assistir ao jogo. Já Alex Fernandes também vai ao estádio, mas mantém-se como uma das lideranças da manifestação anti-Copa, tentando acalmar a violenta PM paulista.
Interessante observar aqui nesse retrato, não só uma visível desigualdade econômica, mas também o peso com que as manifestações que aconteceram após essas imagens agora trazem para elas. Tendo a direita e a extrema direita brasileiras adotado tanto as camisas do Brasil quanto o hino nacional como símbolos de seus discursos, forma-se um retrato violento quando se observa as cores verde e amarela penetrarem a comunidade em que mora Alex Cientista, quase como se não pertencessem àquele espaço. Além disso, as cores da pele que dividem os dois momentos são também pulsantes. Enquanto uma maioria de brancos torce alegremente durante o jogo, dentro do ambiente seguro e higienizado do estádio, Anderson e seus colegas – em sua maioria negros – segue trabalhando, obedecendo à lógica do capitalismo colonialista que fundou este país e cujas raízes são ainda profundas e fortes.
Assim como Maria Augusta Ramos disseca o Brasil de 2014 em seus retratos de Futuro Junho, seria possível dissecar o filme nos mínimos detalhes. Este artigo trata na verdade de inquietações e apontamentos que estão presentes em uma pesquisa de doutorado ainda em gestação. Concluo aqui meu raciocínio (por hora), esperando ter apontado que Futuro Junho encontra no aparentemente banal, no dia-a-dia de seus personagens, um retrato denso e poderoso de uma panela de pressão prestes a explodir. Em gestos e conversas corriqueiras, o espectador se vê diante de alguns dos sintomas que nos levaram à situação política e econômica que temos hoje.
Foi então sem espanto que vimos o anúncio de que Maria Augusta filmava O Processo, desta vez passando por adversidades maiores e em regime de urgência ainda maior, a fim de retratar o impeachment de Dilma. Perante aquilo que ainda estava sendo, ela apontou sua câmera para senadores e deputados, e o poder evidente que sua narrativa poderia tomar não passava despercebido dos políticos: não autorizavam filmagens na Câmara ou no Senado, solicitavam que os seguranças retirassem sua equipe – e as de Petra Costa e Douglas Duarte – à força, quando não os faziam eles próprios. Diante do cerceamento do ato fílmico, o cineasta filma em uma estética de urgência aquilo que, para alguns, não deve ser registrado.
Com Maria Augusta e outros realizadores, observo um movimento interessante e importante do documentário brasileiro. Em tempos de overdose midiática, o cinema tenta registrar o real fugidio que escapa ao espetáculo das mídias oficiais, preocupadas em construir suas próprias narrativas. O real escorre pelas brechas, foge do espetáculo da grande mídia, e é no cinema documentário que podemos encontrar os testemunhos daquilo que Comolli identifica como “teimosia” do real (2008, p. 10). Assim, apontamos a urgência de nosso cinema contemporâneo em “construir arquivos sobre a experiência vivida” (LEANDRO, 2010, p. 108). Mais do que isso, construir memórias audiovisuais assumidamente subjetivas, em que as escolhas técnicas e estéticas carregam consigo escolhas políticas. Como o trem seguindo o trilho rumo à escuridão ao final de Futuro Junho, essa excelente metáfora para os rumos incertos e obscuros do país, resta ao cineasta o filme enquanto alternativa de militância e participação na história.
[1] Logo após o lançamento de Futuro Junho, a diretora lançou no mesmo ano o documentário Seca.
[2] O Processo estreia nos cinemas brasileiros dia 17 de maio de 2018
[3] “Mercado trabalha com ideia ingênua de que surgirá um candidato pró-reformas” – link aqui.





















0 Comentários