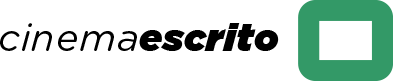
Uma Batalha Após a Outra (Texto #1)
Do caos de Thomas Pynchon nasce um cinema de ação vertiginoso e radical
Por Yuri Lins | 25.09.2025 (quinta-feira)

Sempre há uma grande injustiça em ter que escrever um texto crítico sobre um filme cuja exibição ocorreu há tão pouco tempo. A obra ainda não teve a chance de se assentar plenamente, e os julgamentos inevitavelmente correm o risco de soar superficiais ou, pior, injustos. Ainda assim, é necessário tecer algumas considerações, arriscar certos juízos e, se isso for feito com honestidade, talvez se consiga ao menos uma aproximação legítima com a obra.
Todo este preâmbulo, ainda que soe como uma espécie de mea culpa , ou a admissão de uma insuficiência por vir , serve, antes de tudo, para introduzir um elogio à obra analisada. Uma Batalha Após a Outra (EUA, 2025) é um desses filmes que exigem maior paciência de análise, caso se queira tratá-lo para além das platitudes que costumam dominar o meio da “crítica” atual. Que este texto seja, portanto, um primeiro diálogo.
De partida, vale observar alguns dados sobre sua recepção desde as primeiras sessões de . Uma Batalha Após a Outra. Não raro, afirma-se que este é um filme que redefine o gênero blockbuster no século XXI. Depois de décadas dominadas por produções de super-heróis — filmes de orçamentos inflados, mas execução frequentemente capenga —, encontra-se em Paul Thomas Anderson um novo fôlego para o modelo. Trabalhando com o maior orçamento de sua carreira, o diretor demonstraria ser capaz de revitalizar esse formato, entregando algo realmente inovador e substancial, onde cada recurso investido se traduz em um espetáculo arrojado, que não se furta nem à epifania nem à a tomada de consciência crítica por parte de sua audiência.
Ora, se esse argumento for verdadeiro, ele diz mais sobre o estado de completa decadência do cinema hollywoodiano do que sobre o talento do diretor em questão. Trata-se menos de reconhecer a carpintaria do autor e mais de diagnosticar a desonestidade dos estúdios, empenhados em despejar nas salas o pior cinema possível, confiando na ideia de que o público aceitará qualquer coisa desde que envolta no espetáculo necessário para entorpecer os sentidos.

Insurgência como desejo: guerrilheiros urbanos e a luta pela liberdade
Em uma tradição que já produziu obras magnânimas nas mãos de nomes como D. W. Griffith, Cecil B. DeMille ou Howard Hawks, resta-nos hoje celebrar pequenas ilhotas de invenção: diretores que ainda conseguem manejar seus recursos astronômicos para algo além do produto estandardizado. É como se, em última análise, louvássemos um cineasta apenas por cumprir o básico de seu ofício — pensar com a câmera, articular uma cena à outra — tal qual elogiar alguém simplesmente por saber usar corretamente os talheres à mesa.
É preciso ir ao filme de fato e não se perder em mistificações. Quem acompanha a carreira de Paul Thomas Anderson desde Jogada de Risco (1996) reconhece na sua obra uma ambição de grandiloquência, uma busca persistente por um lugar de distinção, por uma aparência de “grande forma”. Ela se manifesta de maneiras diversas: nos longos planos-sequência de Boogie Nights, que atravessam festas e estúdios como se quisessem abarcar um mundo inteiro em um único fôlego; na montagem sincopada que une vidas e destinos em Magnólia (1998), que articula simultaneidades emocionais e dramáticas com um senso de coreografia quase musical; na escala épica, de filiação à “great American novel”, em Sangue Negro (2007), onde cada enquadramento parece talhado em pedra, conferindo peso escultórico às figuras na tela. Até suas decisões técnicas reforçam essa marca — filmar O Mestre (2012) em 70mm, por exemplo, não é apenas uma escolha de formato, mas um gesto que confere à imagem uma distinção até mesmo no modo como ela é exibida, já que pouquíssimas salas no mundo são capazes de projetar nesse padrão. Essa mesma lógica reaparece agora em Uma Batalha Após a Outra, rodado em Vistavision, como se Anderson quisesse insistir na experiência de ver suas obras em condições quase raras, quase rituais, em si excludentes. Em todas essas obras há uma tensão constitutiva: a magnitude daquilo que Anderson quer abarcar e os limites concretos de cada produção. É dessa fricção que nasce algo de singular — filmes que parecem maiores do que poderiam ser, mas que justamente por isso vibram com uma energia própria, como se estivessem sempre à beira de transbordar.
O que se percebe em Uma Batalha Após a Outra é que essa tensão parece ter finalmente encontrado um ponto de equilíbrio. A distância entre intenção e realização se estreita. Anderson dispõe do orçamento necessário para expor aquilo que lhe é caro. O ponto de partida é Vineland, romance de Thomas Pynchon, um autor marcado por uma poética fragmentária, labiríntica, quase lisérgica, na qual o detalhe cotidiano se entrelaça a grandes eventos históricos e personagens e acontecimentos se sobrepõem de maneira caótica e, ao mesmo tempo, surpreendentemente articulada. Levar um universo tão intrincado e alucinatório ao cinema, com os recursos que ele exige, não é tarefa simples — e seria lógico que qualquer executivo de estúdio visse com desconfiança tamanha ousadia. Por isso, Anderson não opta por uma adaptação direta, mas por aquilo que prefere chamar — e que o filme confirma — de adaptação espiritual. Ele não transpõe a trama do livro para a tela, mas recolhe dele certos conceitos, atmosferas e obsessões, bem como de todo o universo pynchoniano, e os reinscreve em sua própria lógica cinematográfica. É justamente essa complexidade narrativa, filtrada e reimaginada, que lhe permite criar um filme que, ao mesmo tempo, reflete com sensibilidade as tensões políticas da era Trump e se afirma, sem concessões, como um exemplar pleno do cinema de ação, em diálogo com os melhores espécimes do gênero.
A incursão no universo pynchoniano não é inédita na obra de Paul Thomas Anderson. O cineasta já havia realizado Vício Inerente (2014), com Joaquin Phoenix, adaptação do romance homônimo do escritor norte-americano. Em Uma Batalha Após a Outra, porém, a escala é outra. Se no primeiro filme prevalecia um tom errático, labiríntico e quase intimista, aqui o que domina é uma ação cinética arrojada, sustentada por movimentos de câmera expansivos, pela exuberância do Vistavision — que amplia o campo de observação no quadro —, por coreografias visuais de grande fôlego e por uma energia que projeta a narrativa para além do registro de uma contemplação da estranheza de seu material base adaptado. Anderson parece transpor o caos pynchoniano para o corpo do cinema de ação, construindo um espetáculo em que o excesso não é gratuito, mas uma estratégia para converter, em ritmo e em fisicalidade, a densidade anárquica literária do autor adaptado.
Do ponto de vista ficcional, Uma Batalha Após a Outra retoma a máxima de outro escritor americano, William Gibson, de Neuromancer, para quem “o futuro já chegou, apenas não está igualmente distribuído”. No universo do filme, os Estados Unidos se transformaram em um estado de exceção: um país dominado por um aparato militar com poderes imperiais, onde campos de concentração para imigrantes se espalham, sociedades secretas de supremacistas operam nas sombras e um clima de paranoia generalizada permeia o cotidiano. Nesse cenário distópico, ainda resistem pequenos focos de insurgência que, seja por meio de guerrilha urbana, seja por redes subterrâneas de solidariedade, buscam enfraquecer a máquina de poder e dar algum fôlego àqueles empurrados à clandestinidade.

A violência é também espaço de desejo: prazer insurgente e perversão do poder
A grande questão, retomando a ideia de Gibson, é que a dimensão especulativa proposta por Anderson não está distante do presente imediato: basta olhar para os Estados Unidos sob o governo Trump, onde o ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) promove verdadeiras caças às bruxas, multiplicando deportações sumárias, batidas em comunidades de imigrantes e a manutenção de centros de detenção que funcionam como prisões extrajudiciais. Ao mesmo tempo, cresce o fortalecimento de grupos de supremacia branca, cada vez mais visíveis e tolerados no espaço público, enquanto discursos de ódio se normalizam e se convertem em política de Estado. Soma-se a isso um clima de novo macartismo, em que qualquer dissidência é imediatamente associada à ameaça interna, sufocando o debate público e corroendo liberdades civis. O gesto crítico do filme, nesse sentido, não é o de extrapolar a realidade pela ficção, mas de organizá-la em um corpo coeso, capaz de revelar que o estado de exceção já se instaurou de forma silenciosa. Anderson não inventa futuros distópicos: ele apenas costura, em chave narrativa e imagética, os sinais dispersos de um presente em que a violência institucional, a perseguição política e o medo social já estruturam a vida cotidiana.
Mas há as insurgências. E é a elas que o filme dedica sua paixão — e falo em paixão porque Anderson entende que o desejo é parte indissociável de qualquer ação revolucionária. Acompanhamos um grupo de guerrilheiros urbanos em suas diferentes operações de resistência: eles invadem centros de detenção para libertar imigrantes, detonam explosivos em bancos e prédios governamentais, desestabilizam a engrenagem de poder em gestos tanto estratégicos quanto simbólicos. O que a câmera de Anderson captura, porém, não é apenas a violência dos atos, mas também o prazer estampado nos corpos de seus personagens, toda uma dimensão erótica que emerge de cada gesto de afirmação de uma liberdade plena e inegociável.

A violência é também espaço de desejo: prazer insurgente e perversão do poder
Não são apenas os revolucionários que experimentam prazer na violência. O filme revela que seus algozes — policiais, militares, agentes do Estado — também se alimentam de um gozo perverso no exercício brutal do poder. A câmera de Anderson não poupa o espectador desse detalhe: os sorrisos frios durante uma batida policial, a excitação soldados que preparam uma execução, o olhar de satisfação de um agente ao acionar os mecanismos de repressão. Essa simetria incômoda sugere que, tanto para os insurgentes quanto para os representantes da ordem, a violência não é apenas um instrumento, mas também um espaço de desejo. O que difere, contudo, é o horizonte que cada lado atribui a esse gozo: para uns, trata-se da promessa de liberdade; para outros, da reafirmação da dominação.
Estas são apenas primeiras aproximações com o filme, e ainda há muito a ser desbravado. A densidade de Uma Batalha Após a Outra não se deixa apreender em um único olhar: cada sequência convoca leituras políticas, estéticas e críticas, muitas vezes contraditórias entre si, que precisam repousar e amadurecer em nosso próprio corpo. Nesse sentido, a insuficiência aqui assumida desde o início não é um defeito, mas talvez a única forma honesta de lidar com uma obra que resiste à clausura das interpretações rápidas. Ao fim, o que resta afirmar é que o gozo atravessa tudo: insurgentes, repressores e, sobretudo, o próprio cinema. Uma Batalha Após a Outra é também um espetáculo de prazer, não apenas pelo que narra, mas pela forma como transforma o excesso, a vertigem e o impacto sensorial em gesto crítico. Anderson nos lembra que a política da imagem não se separa de sua potência de arrebatamento: goza-se na luta, no poder e, aqui, no próprio ato de filmar e assistir. E se a experiência é tão intensa, talvez reste apenas o desejo de voltar — logo mais, hora de rever.
— xx X xx —
Leia também a crítica de Luiz Joaquim para Uma batalha após a outra













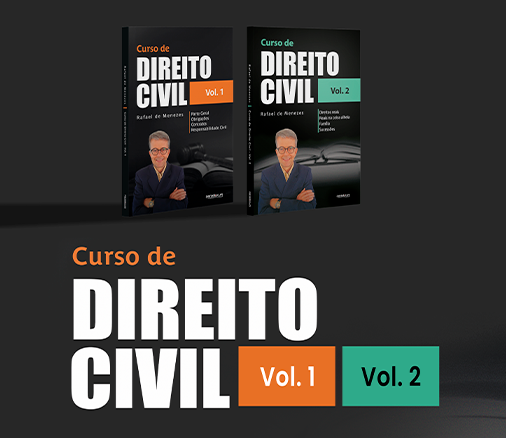










0 Comentários