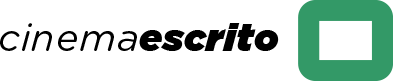
A Queda do Céu
Eryk Rocha e o legado glauberiano no registro sensível dos Yanomami
Por Humberto Silva | 20.11.2025 (quinta-feira)

Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha, é obviamente uma figura destacada na cena cinematográfica brasileira nas duas décadas recentes. Quem sabe menos do que poderia. Contudo, creio que para evitar inevitável comparação com o pai, em vez de uma obra de ficção, sua produção centra-se quase que exclusivamente em documentários. Dele então temos Rocha que voa (2002), Pachamama (2008), Jards (2012) – que me despertou interesse rever com a morte ontem de Jards Macalé –, Campo de jogo (2015), Cinema Novo (2016) e agora mais um documentário se acrescenta à lista: A queda do céu.
Como documentarista, então, Eryk ocupa lugar incontornável em nosso cinema e A queda do céu ratifica sua disposição para documentar diferentes cenas de nosso mundo político, cultural e social. Retomo: apesar de possivelmente querer escapar à comparação com o pai, vejo em seus documentários decisões de abordagem, temáticas, encenações, escolha de locações, detalhes de linguagem (cacoetes) que para mim ao menos rementem ao cinema glauberiano. A queda do céu, já na escolha do título e em muitos momentos de filmagens, conjecturei que Glauber filmaria como Eryk filmou. Para o bem e para o mal, o DNA glauberiano me parece inescapável para Eryk.

Em “A Queda do Céu”, Davi Kopenawa conduz a experiência sensorial do filme.
O assunto de A queda do céu? O protagonismo do xamã Yanomami Davi Kopenawa, da comunidade Watoriki. Com ele, o modo de vida Yanomami, suas crenças, o cotidiano e o título do filme, o ritual Reahu, que mobiliza os Watoriki num esforço coletivo para “segurar o céu”. A queda do céu e a desordem no mundo. Desnecessário aqui lembrar o vínculo entre o Reahu e o Barravento. Não é nem o caso de ponderar se Eryk teve isso em vista e sim tão só ver um ar de “semelhança de família”, ou arquétipos entre crenças e misticismo indígenas e da comunidade de pescadores negros em Buraquinho.
Eryk é extremamente cuidadoso e respeitoso no modo de filmar os Watoriki, tanto quanto sensível a detalhes casuais nos gestos de membros isolados da comunidade. A câmara é direcionada, convenhamos, para uma realidade pouco porosa ao mundo dos “brancos”, a quem Davi Kopenawua chama de “napê”. Cabe-lhe então, e essa decisão num filme de teor etnográfico para mim fundamental e oportuna, manter-se distante e simultânea e discretamente envolvido para não correr o risco de assumir uma postura de neutralidade que carrega um quê superioridade branca, ou ocidental caso esse seja um adjetivo que convenha.
Dessa forma, a câmara acompanha movimentos, esgares, transes, delírios, alucinações pelo uso de ervas na mesma proporção que o dia a dia, os momentos de prazer sexual, alimentação, enfim situações casuais da vida Watoriki e a relação entre os membros dessa comunidade e o xamã.
Assim, é a partir da voz over do xamã que se tem a impressão de como sentem o mundo, como sentem a presença dos napês. Mais especificamente, como sentem o mundo em que vivem, daí o ritual Reahu, ameaçado pela presença de garimpeiros, de traficante de madeiras ou mesma pela sedução de seus membros pelos prazeres propiciados pelos napês.
Um dado notável nesse documentário de Eryk: não há outra presença em A queda do céu além da dos Yanomami. E, nesse mundo, por isso o ritual Reahu, sentem que sua existência não será longa. Há, portanto, ainda que de modo velado, um fundo melancólico, profundamente pessimista. Mesmo que o comportamento filmado do xamã, ou as manifestações de outros integrantes da comunidade Watoriki, não revele o que para os brancos, ou acidentais, seria expressão de pesar, de ressentimento.

No filme de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, o gesto de filmar recusa a neutralidade branca.
Há subliminarmente, assim entendo, algo na velada melancolia dos Watoriki que interpreto com o sentido de fragilidade, pânico, frente à inexorabilidade do destino que os aguarda. Ao captar essa condição existencial por meio de uma câmara cinematográfica, Eryk, essa a forte impressão que me fica, aborda um assunto que não se pode por embaixo do tapete, fingir que não existe no Brasil: a causa indígena. De modo que, para além da militância, ele nos lega uma obra que deve tocar quem quer que tenha sensibilidade para entender como nesse enorme país litorâneo há um Brasil profundo entranhado na floresta, em que o “exótico” não é tantas vezes senão uma nova manifestação do exótico.
A queda do céu, tão só uma documentário, quando vemos a enorme diversificação na produção nacional nesses anos recentes, merece ser visto com todo cuidado e atenção. Merece ser discutido, debatido e “apesar de ser um documentário”, poder circular para que possa ser visto, para que não continuemos virados de costas frente ao gritante confronto entre a realidade do “mundo branco litorâneo” e o “Brasil profundo” no meio da floresta amazônica.
Em alguma medida, como nota final, relembro que Glauber fez em 1965 Amazonas, Amazonas, um documentário que para mim é o filme glauberiano que menos mereceu atenção e menos teve fortuna crítica. Acho que valeria ver A queda do céu ao lado de Amazonas, Amazonas.
















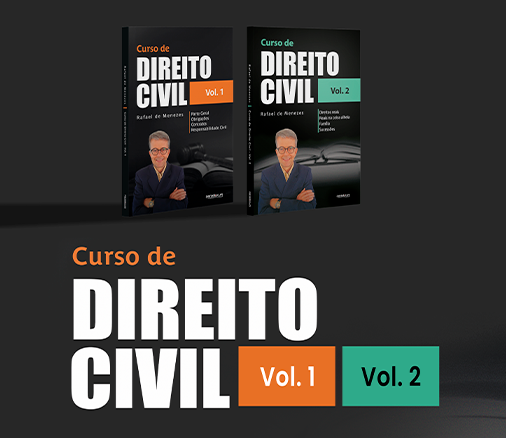










0 Comentários